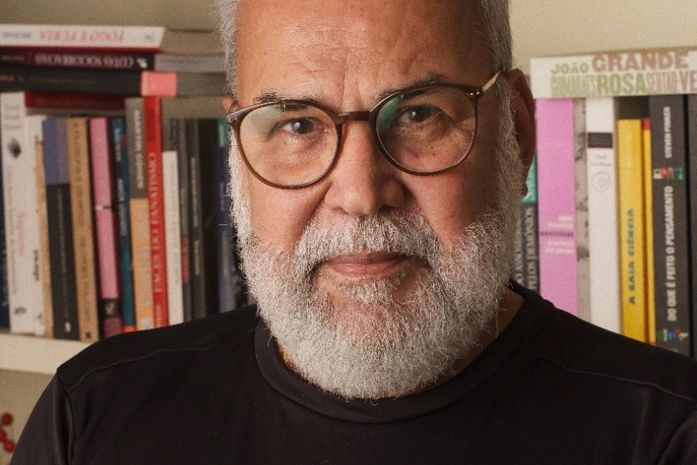Ainda era manhã, bem cedo, quando abri a minha caixa de e-mails, na TV Pajuçara, me preparando para apresentar o jornal matinal que eu ancorava e que não investia no noticiário policial. Foi um tremendo susto me deparar com a mensagem de um médico, conhecido de longa data, que ainda mandou o aviso: “Urgente!”.
À minha perplexidade se misturou uma sincera indignação. Quase sem nenhum texto, saltaram aos meus olhos imagens de muito sangue e pedaços de gente sobre o asfalto, resultado trágico de um acidente automobilístico que vitimara um jovem de família conhecida de Maceió.
Devolvi o e-mail com um recado duro: eu não precisava disso para viver, considerando a mensagem macabra e fruto de uma mente adoecida. Ainda que não tivesse dito isso, indaguei se não seria o médico, um psiquiatra, que precisava de tratamento bem mais do que os seus pacientes.
Nunca mais nos falamos.
Impressiona-me, ainda que sem surpresa, o grande número de pessoas que se sentem atraídas pelo “show da morte”. Tanto mais escabrosa e tétrica for a história, maior a atração da plateia. Isso vale para gente de todas as camadas sociais/econômicas e de todos os credos.
Na semana que passou, um desses enredos que provocariam grande tristeza a quem mantém viva a sua empatia fez a festa da imprensa local, com repercussão na mídia nacional. O sumiço de um bebê, relatado pela mãe, foi escalando no interesse do público, alimentado pela abordagem espetaculosa do jornalismo profissional, escrevendo uma história cada vez mais tristemente atraente e cheia de mistérios.
De novo, teve início o exercício do velho sensacionalismo rasteiro e primário; a exploração barata do mais primitivo sentimento humano: o medo, que resvala para o ódio, seu primo-irmão, quase que automaticamente.
O que move as pessoas nesses casos, em regra, é a simples curiosidade, não tem qualquer relação com comiseração, piedade ou sentimentos similares. Isso vale, repito, para gente que vive em universos geográficos, sociais e religiosos os mais diversos.
Fui notando, aos poucos, embora sem buscar me aprofundar no “caso policial” propriamente, que estava em curso a construção do enredo de um crime assustador em que, ao fim e ao cabo, a sentença já estava escrita – fosse quem fosse o alvo da fúria popular.
Bem sabemos que todo julgamento coletivo vira linchamento, principalmente se embalado por reiteradas informações de “injustiça extrema” e/ou de violência contra indefesos, o que incomoda até mesmo os humanos em estado bruto. Parecia ser bem o caso, embora ainda permaneça um assunto próprio para especialistas em distúrbios da mente humana.
Ao ser elucidado o crime, as forças policiais ganharam destaque na mídia local, com fotos, entrevistas coletivas e a narrativa da complicada dinâmica da investigação, que, eis o fundamental, a ajuda de um psicólogo ou um psiquiatra poderia ter poupado tempo e esforços para o esclarecimento da tragédia. Mas essa é outra história, e a polícia não é a grande culpada por isso, deixo claro, pelo menos no meu entender.
O "show da morte", mais uma vez, cumpriu o seu papel e manteve ocupadas e povoadas algumas almas que haveriam de andar incomodadas com a própria existência - vazia, tantas vezes; outras tantas, insuportável.
Nós da imprensa sabemos - ou deveríamos saber – que “sexo e sangue”, como destacou Pierre Bourdieu (Sobre a Televisão e Jornalismo), sempre encontrarão espaço nos corações e mentes da grande maioria de homens e mulheres. A questão que sempre se colocou para nós, como permanente questionamento profissional, foi - e é: devemos oferecer ao grande público o que ele parece desejar mais do que qualquer coisa, ou assim procedendo estaremos apenas ajudando a adoecer ainda mais uma sociedade que não pode se jactar de ser saudável?
Conheço vários colegas jornalistas que sempre se rebelaram contra esse tipo de noticiário, mas que hoje, por uma questão de sobrevivência e por “determinação superior”, se veem obrigados a espalhar as más novas, em alto volume e em cores fortes. Afinal, estamos falando também de grana, o que move qualquer negócio.
O argumento usual desses tempos: “Se a gente não der, as redes sociais vão dar”. Se assim fosse, a imprensa não teria mais razão de existir – e não acho que seja assim. Quanto mais conturbados e confusos forem os tempos, mais essa atividade há de ganhar relevância, até como uma forma de resistência da própria humanidade e daquilo que ainda merece ter esse nome.
Dizem que o jornalismo, e não é de hoje, está morrendo, só espero que não seja por suicídio.

Ricardo Mota