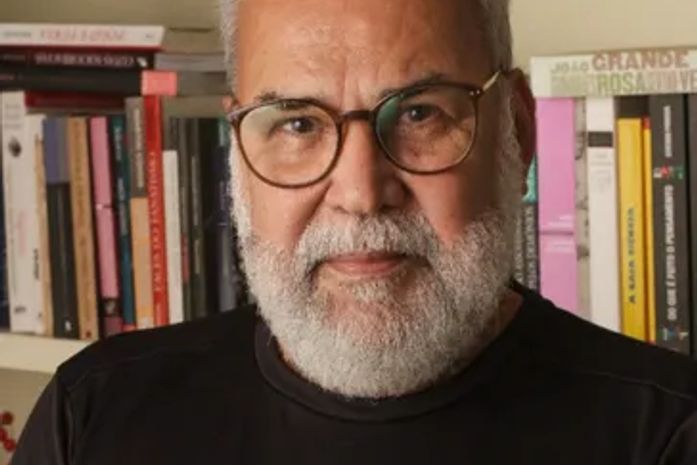Dizem que quando dois ou mais velhos se encontram, o papo é sempre sobre saúde ou sobre a falta dela - progressiva, em regra. Mas nem sempre é assim.
Na semana que passou, enfrentando uma pequena fila de supermercado – também falam que este é uma dos programas preferidos dos idosos -, ouço um quase grito alegre e cheio de carinho. Olhei para trás e me deparei com uma mulher que parecia da minha geração, ou seja: da turma dos sessenta +.
Cumprimentei-a com alguma timidez, minha essência, sem que a reconhecesse como deveria, ou como ela talvez esperasse. Nada disso abalou seu entusiasmo, algo juvenil. Contou que havia me conhecido pessoalmente nos encontros sindicais do início dos anos de 1980, tempo de militância política intensa, na iminência da queda da ditadura, que ajudamos a derrubar, eis a nossa tola convicção.
“Sou de Água Branca”, me disse. Garantiu que continuava “na luta” e ficou bastante feliz quando eu citei um icônico personagem da resistência aos fardados, desde a década de 1960, num lugar improvável: Pariconha, em pleno Sertão de Alagoas. Com incontida satisfação, perguntou:
- E você ainda lembra do Zé Correia?
Como esquecê-lo? Eis um sujeito admirável, de coragem rara, sindicalista rural, quase guerrilheiro, cuja história foi escrita com a tinta da esperança e da luta pela liberdade/igualdade.
O encontro terminou em uma selfie, como sói acontecer por estes tempos. Ela anunciou, então, que iria mostrar aos nossos contemporâneos e conterrâneos dela como registro de um pedaço importante das nossas existências.
Mas tem um outro lado, nessa história.
No dia seguinte, me deparei com outro personagem, bastante conhecido pelos de minha geração, caminhando pela rua com dificuldade, claudicante, e uma imensa bolsa de colostomia colada ao corpo. Uma cena nada agradável, como que a alertar para a diversidade existente até mesmo no envelhecimento.
Fiquei tocado e, ato contínuo – e não apenas por isso -, recordei da morte recente do poeta e filósofo Antônio Cícero, que, é a minha opinião, nos deu uma belíssima lição de vida pela sua decisão de viajar à Suíça e findar seus dias com o suicídio assistido, amparado na lei, por lá.
Foi uma decisão racional de um poeta, cheio de emoções, e que estava, imagino, acostumado a transformar em belos versos as dores do cotidiano. Havia ultrapassado, no entanto, o limite daquilo que ainda o levava a acordar todas as manhãs. Deixou uma carta-testamento, curta e franca, sem esperar aprovação de ninguém:
- Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo. Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação.
O desfecho da mensagem dá bem a dimensão do tamanho a que ele havia chegado, uma construção rara:
“Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade.”
A frase do poeta, que revelou seu altruísmo até na despedida – protegendo os que ficaram, encurtando seu sofrimento -, vai além do cinismo de Tomasi di Lampedusa, em O Leopardo: “Enquanto há morte há esperança”; ou do realismo duro de Philip Roth, em O homem comum: “A velhice não é uma batalha; a velhice é um massacre”.
Embora seja sempre evitado, até porque as pessoas temem falar sobre ele, como se isso fosse atrair algo de mau ou até ela própria, o assunto merece sempre um bom papo, pois em nada altera o resultado da vida.
Entendo hoje que a morte não dói no morto, mas nos que ficam inconformados com a despedida. Pior, assim me parece, é quando a vida da gente dói naqueles de quem gostamos e que gostam da gente.

Ricardo Mota