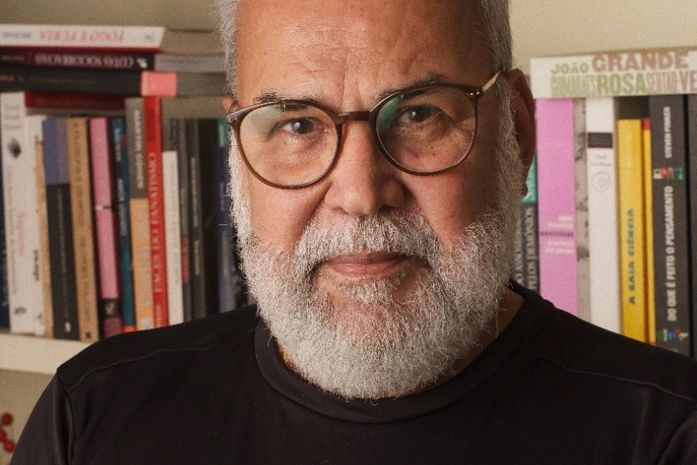Infinita, só a estupidez humana, diria Albert Einstein. Pois há uma notória implicância nos meios científicos em relação aos que defendem – entre os deles – que o saber não deve ser propriedade de uma “sociedade secreta”. Assim, Carl Sagan fez da sua vida uma luta sem tréguas para que o homem comum conhecesse – tanto quanto possível – os mistérios do Universo e da Vida.
Puxou com ele um time de primeiríssima, formado por Stephen Jay Gould, Richard Dawkins, Stephen Hawking, Frans de Waal, Steven Pinker e os brasileiros Marcelo Gleiser e Marcelo Leite, entre outros. São os divulgadores da Ciência, defensores de um novo e democrático Iluminismo, que enfrentam mais um tolo preconceito – felizmente, para nós.
Confesso: com eles, tenho me emocionado tanto quanto ao ler maravilhas da literatura. Com minha curiosidade errática e um tanto sem método, ando por caminhos diversos, o que, entre outras coisas, nunca me permitirá ser um especialista em nada (já disseram que esta pode ser uma boa definição para jornalista. Pois que seja).
Garanto que, ao contrário do que possa parecer, o pouco que consegui aprender com esses mestres fez com que eu me sentisse mais pleno como pessoa e mais convicto dos valores humanísticos que persigo. Portanto, estou à vontade para compartilhar minha ignorância com leitores e leitoras benevolentes deste espaço domingueiro.
E quem não conhece o personagem que vem a seguir, morto em 2015, de câncer, não sabe o que está perdendo de diversão e amplitude do olhar sobre o que é ser humano, diverso, a exigir de nós compreensão e respeito – principalmente este.
Eis um sujeito extraordinário: Oliver Sacks, neurocientista americano que resolveu trazer à luz um tema que tinha tudo para ser espinhoso aos pobres mortais. Qual o quê! Além de ótimo escritor, ele nos conduz a um mundo estranho e profundamente humano.
É uma lição de humildade e crença nas possibilidades das “pobres criaturas” que o doutor Sacks nos apresenta em cada caso – verídico – por ele narrado. Trato aqui, especialmente, de O homem que confundiu sua mulher com um chapéu, que me fez mergulhar na obra do cientista. Nada a temer, embora o que está descrito no livro desafie a mais sofisticada e criativa ficção literária.
(Dele, li também Um antropólogo em Marte e Gratidão, seu pequeno e delicioso livro de despedida da vida.)
Impressiona saber que doenças que em tudo parecem ser incapacitantes deixam espaço para a dignidade humana. Um aprendizado que ele próprio absorveu, com os seus pacientes, ao longo de décadas de atividade profissional. Gente diferente, que se reinventa a partir do improvável.
O caso que dá título ao livro, por si só, já “pagaria o ingresso” no espetáculo da vida apresentado pelo cientista. Mas já adianto: o homem que parece confuso, e assim é apresentado - o do caso narrado -, não sofreu um surto de loucura. O que lhe aconteceu tem explicação na boa Ciência. Difícil de explicar e maravilhoso de entender é como ele consegue ser uma pessoa normal e até feliz, como poucos que sabem, e muito bem, a distinção entre uma mulher e um chapéu. A verdade dele era pessoal/ biológica, mas não inventada, eis o busílis.
Outro enredo, no entanto, me conquistou em definitivo para a causa do doutor Sacks: o da história de uma mulher que nasceu cega, com paralisia cerebral, e durante sessenta anos desconheceu a possibilidade de qualquer uso das mãos. Viveu sempre numa cama, sendo alimentada, banhada e protegida pelos familiares que a amavam.
Com um tratamento simples, como bem nos mostra o médico, Madeleine J. descobriu o tato, o toque sensível, explorou objetos e chegou ao que viria a ser o seu fascínio: rostos humanos. Fez-se artista, modelando cabeças e figuras com “uma notável energia expressiva”, na definição do doutor Sacks. Ela ficou conhecida como a Escultora Cega do St. Benedict, instituição onde esteve internada.
Em que ponto a vida e a arte se separam no caso, sinto dizer, nunca saberei. Mas se isso não me emocionasse, o que mais conseguiria?